Os CEOs estão inaugurando uma nova era de responsabilidade corporativa?
Muitos executivos dirigem empresas de acordo com a própria visão pessoal. Há pouca supervisão social e a remuneração subiu muito. Isso exigirá melhor organização e demandas fortes sobre as corporações
Protesto contra Jeff Bezos nos EUA: o executivo lutou contra a sindicalização (David Dee Delgado/Getty Images)
Da Redação
Publicado em 29 de julho de 2021 às 06h00.
Recentemente, a ExxonMobil anunciou um plano de cinco anos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e está divulgando anúncios apregoando seu compromisso com um futuro verde. O gigante do tabaco, Philip Morris, está divulgando seus planos para ajudar fumantes a parar de fumar. O Facebook está pedindo novos regulamentos para a internet. E todas essas mudanças ocorreram menos de dois anos depois que a Business Roundtable, representando os CEOs das maiores corporações dos Estados Unidos, divulgou uma declaração pedindo às empresas que atendam a todas as partes interessadas.
Os executivos corporativos de hoje estão inaugurando uma nova era de responsabilidade corporativa? Ou estarão eles apenas protegendo o próprio poder?
Por décadas, líderes empresariais e proeminentes acadêmicos acreditaram que o único compromisso das empresas seria para com seus acionistas. Anteriormente uma visão periférica, a publicação de um editorial de opinião de Milton Friedman no The New York Times em 1970 — A Responsabilidade Social das Empresas É Aumentar Seus Lucros — mudou essa perspectiva para o convencional.
Isso ganhou ainda mais impulso dentro do ambiente acadêmico após uma série de artigos de Michael Jensen, da Harvard Business School, que ofereceu suporte teórico e empírico para a doutrina de Friedman. Por exemplo, em um influente jornal, Jensen e Kevin Murphy, da Universidade do Sul da Califórnia, estimaram que o salário médio do CEO aumentou apenas 3,25 dólares para cada 1.000 dólares de valor que ele tenha criado, apontando para a necessidade de um vínculo ainda mais estreito entre a remuneração dos executivos e o valor para os acionistas.
Mas essa pesquisa acadêmica não liderava a tendência, mas a seguia. Na década de 1980, CEOs como Jack Welch, da General Electric, e inúmeras empresas de consultoria de gestão já haviam normatizado a preocupação com o valor para o acionista. As corporações começaram a reduzir o tamanho de sua força de trabalho, limitando o crescimento salarial e tarefas de offshoring — tudo em nome de entregar melhor valor aos acionistas.
Embora os defensores da primazia do acionista não tivessem aprovado o tipo de fraude associado à Enron, WorldCom e outras, era fácil ver como a obsessão em aumentar o preço das ações poderia levar alguns executivos a ir longe demais. Há agora um consenso crescente de que maximizar o valor para o acionista não deve ser o único objetivo da corporação. Menos óbvio, entretanto, é qual modelo deveria ser adotado.
Deveríamos redigir um novo estatuto para executivos de modo que eles se sentissem autorizados a considerar uma gama mais ampla de interesses? A Business Roundtable parece pensar assim. Mas eu alertaria contra qualquer solução que dê ainda mais poder à administração. O problema com a primazia do acionista não era apenas criar uma obsessão com os preços das ações e colocar os trabalhadores contra os acionistas. O problema foi ter conferido uma quantidade enorme de poder aos principais gestores.
Atualmente, muitos CEOs dirigem suas empresas de acordo com a própria visão pessoal. Há muito pouca supervisão social, e a remuneração dos executivos subiu muito. Apesar das dificuldades sem precedentes causadas pela pandemia, CEOs de empresas duramente atingidas embolsaram dezenas de milhões de dólares no ano passado.
Quando CEOs com poderes difusos recebem uma vaga atribuição para atingir os objetivos das partes interessadas como acharem adequado, abusos certamente ocorrem. Algumas empresas podem canalizar milhões de dólares para o projeto favorito de seus CEOs (seja o Metropolitan Museum of Art, seja um preferido programa federal de escolas contratadas), ou mesmo para causas “filantrópicas”, que na verdade são apenas formas veladas de tráfico de influência.
Sob a atual estrutura de incentivos há pouca coisa que impeça as empresas de coletar grandes quantidades de dados de consumidores, minar o poder de trabalhadores e cidadãos e estabelecer novas e tirânicas formas de vigilância — até mesmo enquanto anunciam sua filantropia e suas virtudes.
Certamente não há nada que os impeça de buscar excesso de automação para reduzir custos de mão de obra, destruindo empregos apenas para ganhar mais alguns dólares para os acionistas. A maneira de reverter essas tendências antissociais é por meio de uma abordagem em duas vertentes, que é muito diferente daquela que a Business Roundtable preferiria.
Conferência de executivos em Sun Valley: muitos presidentes dirigem suas empresas com visões pessoais (Drew Angerer/Getty Images)
Em primeiro lugar, as restrições legais e institucionais aos altos executivos precisam ser urgentemente fortalecidas. Por muito tempo, gestores conseguiram evitar processos legais por comportamento criminoso. Mesmo os enormes abusos que levaram à crise financeira de 2008 ficaram quase totalmente impunes. Como aponta o jornalista Jesse Eisinger, o cenário jurídico favorável aos executivos de hoje deve muito à ambiciosa e egoísta tendência dos promotores de Justiça de evitar acusações criminais contra empresas e executivos para promover a própria carreira.
Mais importante ainda, é necessária uma legislação para definir sinais vermelhos mais claros. Não deve ser deixada aos CEOs a decisão de se envolver em uma evasão fiscal agressiva e, em seguida, pagar a si próprios com o produto. Não deve ser opcional para as empresas reduzir sua pegada de carbono. E precisamos redirecionar com urgência a mudança tecnológica, afastando as corporações da incessante automação. Todas essas questões afetam nossas perspectivas de manter uma sociedade funcional; elas não podem ser deixadas à boa vontade de CEOs interessados em si mesmos.
O segundo ponto é complementar ao primeiro. ExxonMobil, Philip Morris e Facebook estão proclamando a própria virtude porque estão sob crescente pressão da sociedade civil, não porque seus CEOs de repente adquiriram mais espírito público. Esse tipo de pressão é necessário agora para bloquear quaisquer reformas que dariam aos executivos ainda mais liberdade. Mas o ativismo cívico funciona melhor quando as leis especificam o que é considerado comportamento corporativo inaceitável, seja evasão fiscal, excessiva automação, poluição, sejam manobras contábeis para enriquecer acionistas e gestores gananciosos.
Não há razão para acreditar que empresas como ExxonMobil, Philip Morris e Facebook estejam empenhadas em revisar seus modelos de negócios socialmente destrutivos. Seus esforços de relações públicas refletem a pressão que estão sentindo. O ativismo cívico está começando a funcionar e pode se tornar ainda mais eficaz.
Mas isso exigirá uma melhor organização e demandas mais fortes sobre as corporações — não apenas campanhas de branqueamento destinadas a neutralizar as críticas e desmobilizar os críticos.
A responsabilidade corporativa é importante demais para ser deixada para os líderes corporativos.
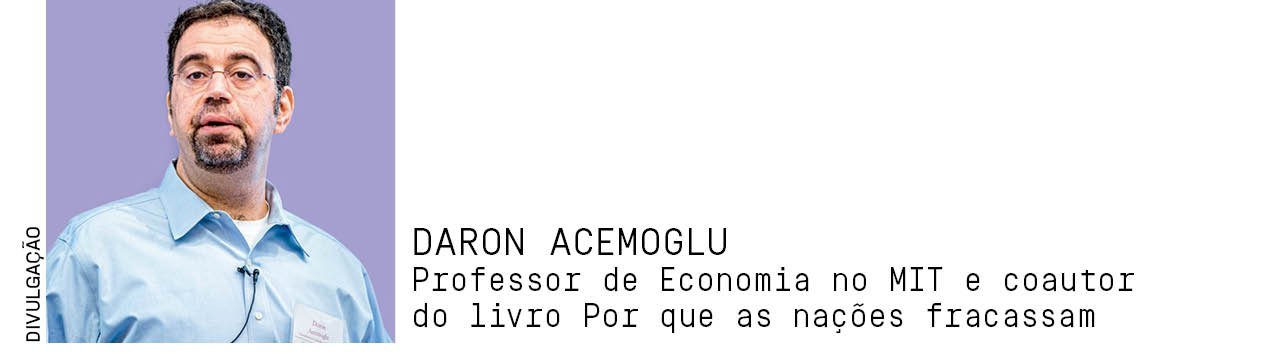
:format(webp))